O bonde de Berlim ou, Kurt Tucholsky e o fascismo
Um dos grandes achados de “O fiscalizado” é mostrar que o fascismo germina quando o sofrimento de uma pessoa é percebido como caso isolado e, portanto, tratado como tal por todos ao redor. Uma lição, para parte da esquerda, ainda por aprender. Na Alemanha, e fora dela.

Foto: Abhijeet Wankhade (Unsplash).
Por Bruna Della Torre
O fiscalizado
Eis o bonde berlinense… mas não deve ser tão diferente em outros trens… Nele as pessoas se sentam e sonham e fitam e conversam e às vezes leem ––. De repente, um homem uniformizado adentra o vagão e diz: “passagens, por favor” – é um funcionário cuja função principal é controlar os passageiros.
Obedientemente, tudo nas bolsas é revirado. Todos apresentam o pedacinho de papel ao funcionário. Apenas um perdeu a sua passagem.
É realmente um povo subserviente, o povo alemão. Porque todos agora encaram o homem como se ele tivesse cometido um crime. Eles acreditam que o funcionário os controla. Lá está o funcionário educado, que não faz nada para reforçar essa superstição. Mas eles pensam assim e estão tomados pelo medo e desprezam todos o homem que perdeu a passagem. Num piscar de olhos, todo o vagão está contra ele. Alguns poderiam observar com um pouco de empatia a maneira como ele se debate e estremecem ao se pensar nessa situação terrível…
Eles se encolhem. Ficam com os rostos vermelhos. O perdedor, roxo. Ele se desculpa. Ele não diz: “Eu o perdi, mas vou pagar minha parte…” Ele se sente flagrado. Não se pode imaginar que se tem diante de si um adulto, que talvez tenha uma esposa, filhos que deve criar, funcionários para quem ele rosna… Aqui ele é muito pequeno. Porque aqui apareceu o mais sagrado para um alemão: o uniforme. E aqui acaba a diversão.
Uma pequeneza, uma insignificância, certamente. Mas, mais uma vez, uma simples observação da vida cotidiana, que mostra como aqui o indivíduo nem sequer se atreve a dizer: “Olá! Cá estou eu!” – Ao contrário, ele fica com o rosto vermelho, se encolhe e procura a passagem.
E isso é uma miséria da vida alemã.
Vorwärts, 18.09.1913 (tradução minha)
Não há sangue, não há câmeras de gás ou execuções, não há trabalhos forçados, não há guerra ou campos de concentração, perseguição a comunistas, judeus, Sinti e Roma, homossexuais, deficientes e associais, espancamentos ou estupros, mas, de alguma forma, “O fiscalizado” [Der Kontrollierte] traz em seu encalço todo o terror do nazifascismo alemão. O pequeno texto (um misto de conto e reportagem), publicado anonimamente, é de Kurt Tucholsky, mas poderia ter sido escrito por Franz Kafka, a quem o autor conheceu e admirava, não só pela simplicidade e brutalidade de sua narrativa, mas por toda a potência aniquiladora que pode evocar. Como se vê, o texto foi escrito em 1913, antes da declaração da República de Weimar e das duas Guerras mundiais, quando Tucholsky estava ainda em seus vinte anos e iniciava uma carreira jornalística bem-sucedida que seria interrompida brevemente devido à convocação para lutar na I Guerra, na qual o autor atuou a contragosto e que fez dele um antimilitarista e pacifista militante. Tucholsky, ainda pouco traduzido para o português, foi, além de jornalista (escreveu, principalmente para o jornal Die Schaubühne, que depois mudou o nome para Die Weltbühne), crítico de teatro, poeta e escritor. Quando os nazistas assumiram o poder, suas obras foram uma das primeiras a ir para a fogueira.
“O fiscalizado” adianta características que depois da guerra estariam presentes no movimento chamado de “Nova Objetividade” – talvez mais uma palavra de ordem ou uma manchete (vale lembrar que é uma das poucas vanguardas sem manifesto) do que um movimento propriamente dito – em torno do qual giraram autores diversos entre si como Irmgard Keun, Alfred Döblin, Erich Kästner, Hermann Hesse, Hans Fallada, Bertolt Brecht e o próprio Tucholsky, para ficar apenas no âmbito literário. O lócus da narrativa é a Berlim urbana (Tucholsky, como outros autores do movimento, era um berlinólogo), seu estilo se aproxima da reportagem e do jornalismo e da fotografia– não pela montagem, que não está presente aqui, mas pelo impulso de retratar objetivamente a realidade (uma espécie de novo naturalismo que pode recorrer, mas não nesse caso, a procedimentos modernistas). Trata-se de uma investigação da vida cotidiana e da tentativa de decifrar, dos trens aos cabarés, como são e como pensam as pessoas comuns, o chamado “pequeno homem” [kleiner Mann] ou “pequena mulher”, como argumentei aqui a respeito de Keun. Conforme constava numa das músicas constituintes do movimento (inspirada na exposição que nomeia a Nova Objetividade no museu Kunsthalle de Mannheim, em junho de 1925), de Marcellus Schiffer e Mischa Spoliansky, que depois daria origem a uma revista sobre música [Es liegt in der Luft], “está no ar uma objetividade”. E ler o texto de Tucholsky, escrito antes disso, é compreender que de fato algo se anunciava na Alemanha desde no início do século.
A situação descrita é mesmo rotineira. Na Alemanha, até hoje, a entrada em trens, ônibus e bondes é “livre”, isto é, sem catracas, mas suscetível de fiscalização e multas caras para quem esquecer de comprar e validar o ticket no transporte. Nada demais, como diz a voz narrativa, algo que pode ocorrer com qualquer um que está com pressa ou com a cabeça cheia ou não tem dinheiro para pagar a passagem do dia. Mas a presença de alguém com uniforme no bonde muda tudo. A cena revela o paradoxo do imperialismo capitalista, ou seja, o fato de que a dominação daquilo que está fora (do país) não pode ser desligada da dominação do que está dentro (a dominação interna de classe): as pessoas tremem diante do uniforme que, no texto, é uma espécie de alegoria da autoridade e da impotência autoimposta diante dela. O uniforme revela também a importância de símbolos como este em países nos quais a chamada revolução burguesa (mais exceção que regra) ocorreu de forma conservadora, sem deixar de assimilar elementos estamentais pré-capitalistas – não é fortuito que o uniforme tenha tido tanta importância durante o nazismo (vale lembrar que Hugo Boss era o estilista favorito de Hitler e um colaboracionista notório). O uniforme está profundamente ligado à hierarquia; ao mesmo tempo, homogeneíza e distingue, mas sempre de forma grupal, sem espaço para a variação individual. Ele também é um elemento que marca a diferença entre quem manda e quem obedece. Em sociedades periféricas como a Alemanha do Kaiserzeit, ele contradiz em parte a frase de Marx sobre a diferença entre sociedades capitalistas e pré-capitalistas, de que o capitalista anda com seu poder social no bolso. Ali, o poder (ainda) dependia do uniforme.
O mero símbolo – afinal, o funcionário é simpático – faz todo mundo revirar a bolsa. Quando alguém se destaca da massa pagadora de seus deveres, é considerado um criminoso. O distraído pode até ser um pai de família que se engrandece ao chefiar a esposa e os filhos e descontar suas frustrações nos subordinados, mas ao esquecer a passagem, perde seu lugar na sociedade, se apequena, é alienado até mesmo de sua condição de adulto. Para utilizar um termo de Kant, recai na menoridade. Para falar com Freud, regride à fase infantil. Tudo isso por conta de uma passagem de trem. Tucholsky, que era um boêmio de carteirinha, ironiza o bom cidadão e a superficialidade do moralismo burguês e revela como nessa sociedade a figura do pobre é associada à do criminoso. Aquele que não paga, perde sua dignidade e seu direito de existir. Ademais, quem se destaca da massa, deve ser imediatamente punido.
A moral da história da narrativa, para utilizar a expressão de Walter Benjamin, é a falta de solidariedade, o colaboracionismo e a subserviência dos colegas de trem em relação ao não pagador: “Num piscar de olhos, todo o vagão está contra ele”. Essa permanece sendo a grande pergunta suscitada pela violência produzida pelas várias modalidades e configurações do capitalismo e do fascismo até hoje. Como foi e é possível? A questão, na narrativa, não é a falta de empatia (a explicação banal da banalidade do mal), nem de uma denúncia rasa da frieza burguesa (outra armadilha da sociologia alemã), mas a incapacidade de agir mesmo quando existe empatia devido ao medo de ser a próxima vítima: “Alguns poderiam, sim, observar com um pouco de empatia a maneira como ele se debate e estremecem ao se pensar nessa situação terrível…”. Uma espécie de identificação com o agressor ou com a autoridade cujo fundamento é o medo e que está na base, gostem os marxistas ou não, do processo social de produção da subserviência que leva muita gente a compactuar com a violência da qual também é vítima. Mas trata-se também da extinção da solidariedade que permitiria dialeticamente superar a contradição entre o indivíduo e o todo. Algo dessa atmosfera está presente no final do filme Kuhle Wampe, ou a quem pertence o mundo? (1932), dirigido por Slatan Dudow, com roteiro de Brecht e música de Hans Eisler. Enquanto os trabalhadores saem do metrô em massa, porém atomizados, após uma discussão sobre o aumento do preço do café (aqui contamos com a presença do Brasil no filme), escuta-se o refrão: “Avante, sem esquecer / O que é que nos fortalece. — / Quando estamos com fome, ou quando comemos: / Avante, e nunca esquecendo / a solidariedade por trás da canção!”
Mas essa miséria, embora alemã, não é exclusiva. Vale lembrar como começa a narrativa: os trens alemães não são tão diferentes de outros trens hoje em dia. Essa primeira afirmação sugere que o texto ultrapassa uma cena cotidiana singular. O excerto de Tucholsky é uma pílula literária da dialética do esclarecimento e, embora Theodor W. Adorno e seus companheiros detestassem a Nova Objetividade, é possível dizer que o tipo de filosofia que praticaram, o modo como Adorno mobiliza a própria experiência pessoal para pensar a política em Minima Moralia, seria impensável sem o experimentalismo desses “autores menores” do período de Weimar. Sendo assim, o que está em jogo em “O fiscalizado” é uma situação e as consequências políticas mais amplas que se pode extrair dela. Esse texto de Tucholsky é um excelente exemplo de arte engajada. Sua simplicidade, como em Kafka (embora estejamos falando de escritores de diferentes níveis), vai fundo e não pode ser identificada à superficialidade de uma tese política imediata. E mais, fala ao nosso presente. Um dos grandes achados de “O fiscalizado” é mostrar que o fascismo germina quando o sofrimento de uma pessoa é percebido como caso isolado e, portanto, tratado como tal por todos ao redor. Uma lição, para parte da esquerda, ainda por aprender. Na Alemanha, e fora dela.
***
Bruna Della Torre é Horkheimer Fellow no Institut für Sozialforschung em Frankfurt (Otto Brenner Stiftung), pós-doutoranda no Departamento de Sociologia da Unicamp sob supervisão de Marcelo Ridenti (bolsista Fapesp) e membra do comitê editorial da revista Crítica Marxista, da qual foi editora executiva entre 2018 e 2023. Foi pesquisadora visitante no Centro Käte Hamburger de Estudos Apocalípticos e Pós-apocalípticos da Universidade de Heidelberg/Alemanha e realizou pós-doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP sob a supervisão de Jorge de Almeida, com estágio de pesquisa na Universidade Humboldt (anfitriã: Rahel Jaeggi) e no Arquivo Walter Benjamin/Theodor W. Adorno da Akademie der Künste, em Berlim, com apoio do DAAD. Doutora em Sociologia (bolsista Capes), mestra em Antropologia Social sob a orientação de Lilia Katri Moritz Schwarcz (bolsista Fapesp) e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, realizou estágio de pesquisa na Goethe Universität em Frankfurt am Main (anfitrião: Thomas Lemke) e no Arquivo Arquivo Walter Benjamin/Theodor W. Adorno da Akademie der Künste, em Berlim (bolsista DAAD). Em 2016, realizou um doutorado sanduíche de duração de um ano no Departamento de Literatura da Duke University (EUA) (anfitrião: Fredric Jameson), com bolsa da Capes. Foi, entre 2017 e 2018 e em 2021, professora substituta no Departamento de Sociologia da UnB. É autora do livro “Vanguarda do atraso ou atraso da vanguarda? Oswald de Andrade e os teimosos destinos do Brasil”, colunista mensal do Blog da Boitempo, pesquisadora associada ao Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social (Labemus) e membra da coletiva “marxismo feminista“. Tem experiência em pesquisa e docência no ensino superior nas áreas de teoria literária, teoria social e filosofia. Suas pesquisas concentram-se, principalmente, nos estudos da relação entre estética e política, cultura, literatura e sociedade, na obra de Theodor W. Adorno e da Escola de Frankfurt e nos debates relativos à teoria crítica e ao ao marxismo contemporâneos.

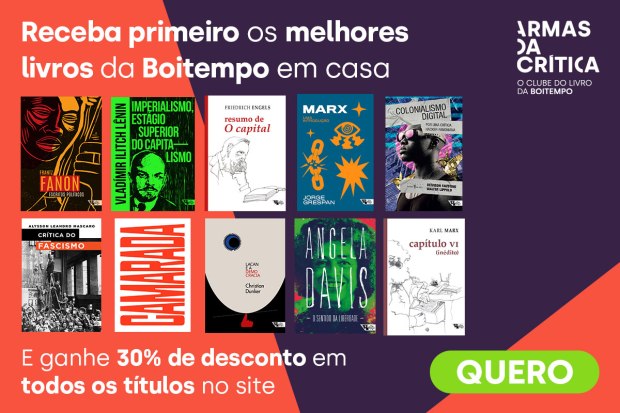
Excelente texto, Bruna. Congratulações pela análise perspicaz e sutil dos tempos hodiernos.
CurtirCurtir